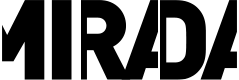PONTO DIGITAL MIRADA

[Crítica] Invisibilidade e esquecimento
Ou Sobre a lacunar aculturação inglesa do poeta Fernando Pessoa na África do Sul
Por Welington Andrade
“Dos LLOYD GEORGES da Babilônia
Não reza a história nada”.
Álvaro de Campos
Em Zululuzu, o Teatro Praga, sediado em Lisboa, se propõe a “tensionar” a biografia de Fernando Pessoa, que entre 1896 e 1905 viveu na cidade de Durban, na África do Sul – período muito pouco conhecido na vida do escritor. Questionando “o apagamento [da vivência do poeta] no país africano, como se não fosse determinante na constituição de sua obra” (segundo consta no catálogo completo deste Mirada 2016), o grupo busca iluminar essa “invisibilidade histórica” ao, durante a realização do espetáculo, tentar trilhar “um caminho contrário aos discursos hegemônicos”.
A matéria é bastante complexa e absolutamente envolvente. Em Fernando Pessoa na África do Sul – livro resultante de uma tese orientada na década de 1960, na USP, por Segismundo Spina, de cuja banca fizeram parte Antonio Candido e Adolfo Casais Monteiro –, o professor Alexandre Eusébio Severino escrutina diligentemente os anos de infância e juventude vividos pelo poeta em Durban, anos esses cercados de “equívocos e hipóteses” que cobriram a biografia do poeta com um “véu de lendas”. Aos oito anos de idade, Pessoa sai de Lisboa rumo à África do Sul na companhia de sua mãe, que se casara em segundas núpcias com o então cônsul de Portugal na colônia de Natal, o comandante João Miguel Rosa. Ali, o poeta completa seus estudos primários na Convent School, matricula-se aos onze anos na Durban High School e presta seus exames intermediários na Universidade do Cabo da Boa Esperança, em fins de 1904, pouco antes de retornar definitivamente para a capital portuguesa, onde fixaria residência até o fim de sua vida.
Embora jamais tenha abordado em sua obra poética esse período lacunoso – para alguns críticos e biógrafos até mesmo sombrio –, o poeta esteve exposto em Durban a um caldo de cultura dos mais significativos do entre séculos, se o adjetivo “efervescentes” não implicasse aqui certa cota de exótica desfaçatez. Em solo africano, Fernando Pessoa deve ter testemunhado a violência do empreendimento colonial europeu no continente, ao mesmo tempo em que usufruía da requintada atmosfera cultural britânica estabelecida por lá. Deve ter admirado a pujante paisagem marítima natural que tange a cidade de Durban (embora o Tejo posteriormente tenha apagado quaisquer vestígios do Oceano Índico em sua poesia), ao mesmo tempo em que dava curso a sua formação literária inglesa, para a qual as leituras de Shakespeare, Carlyle e Milton – realizadas no âmbito da tão rigorosa quão humanística educação vitoriana da Durban High School – foram fundamentais.
Assim, o período que compreende a presença do luso Fernando Pessoa entre os zulus é marcado pelo esquecimento. Rapidamente o poeta se esqueceu de Durban tanto quanto Durban com muita rapidez se esqueceu dele. (Somente duas décadas depois da morte de Pessoa é que a cidade se deu conta de ter acolhido um hóspede, nesta ocasião, já ilustre). Tal esquecimento seletivo do poeta – que, em relação à semântica, seria classificado de “ausência significativa” – poderia ter servido de base a uma matéria teatral repleta de desdobramentos éticos, estéticos e políticos, mas em Zululuzu o Teatro Praga optou por enveredar por caminho aparentemente diverso.
Zululuzu é um trabalho teatral cujo mote é a lembrança, não o esquecimento. O espetáculo quer lembrar o espectador da “negligência” da história oficial em relação à experiência africana de Pessoa, transfigurando tal incúria na atitude “disciplinadora e racista” assumida pela caixa-preta, um dos pilares da arquitetura teatral moderna atacado no espetáculo por seu “elitismo cultural”. De saída pode-se apontar para certa indeterminação no conceito de negligência adotado pelo grupo, uma vez que, do ponto de vista dos estudos biográfico-críticos, essa lacuna vem sendo regularmente preenchida; e, do ponto de vista da própria produção poética de Pessoa, ela serviria de base para um trabalho muito mais rugoso e capilar. “Por que o poeta não teria incorporado zulus e boêres, por exemplo, em sua mitologia poética?” talvez fosse um questionamento mais proveitoso. O terreno das invisibilidades históricas – em pleno avanço nos estudos culturais do século XXI – é matéria que exige o exame de tensões dialéticas, não a simples oposição de um par dicotômico.

Há muitas invisibilidades em uma só. Entre nós, brasileiros, o negro para Machado de Assis é invisível porque não é com o tema que o escritor está preocupado e sim com a forma. A muito propalada e talvez pouco compreendida ironia machadiana nasce, segundo Roberto Schwarz, “da observação do enviesamento das formas modernas para atender aos interesses locais”. Os negros não protagonizam as narrativas do autor de Quincas Borba porque simplesmente não eram protagonistas da vida social da nação em fins do século XIX. Tanto quanto não o são ainda nos dias de hoje – o que, machadiana e ironicamente, está na base não somente da ideologia por detrás de livros como Não somos racistas, mas também do ódio contra a política de cotas disseminado nos últimos anos através das mídias sociais.
Naturalmente, a invisibilidade zulu para o “apolítico e abúlico” Fernando Pessoa é de outra ordem e mereceria ser revirada do avesso, sob a forma de imaginação teatral, é claro. Contrariamente, Zululuzu reduz quase todo o seu discurso contra tal invisibilidade à metáfora de hostilização da caixa-preta do edifício do teatro italiano. Durante os cerca de 75 minutos que dura a encenação, os atores lembram à plateia, seguidas e reiteradas vezes, de que a caixa-preta age de modo normativo e controlador, postulando eles, por sua vez, uma arquitetura teatral comprometida com a libertação. Se o modo de hipertrofiar essa lembrança aposta na imprevisibilidade das formas, a fixidez da ideia aqui é algo de cuja frustração não podemos nos desenlaçar.
O humor e o escracho funcionam bem durante a encenação (descosidos dramaturgicamente, como se indicassem a (des)estrutura do teatro de revista), mas não sustentam uma visada crítica de maior fôlego. Aliás, a obsessão pela expressão “caixa preta” e pela palavra “preta”, experimentada em cena pelo viés da cultura pop (que ainda orienta a espontaneidade não somente das performances dos atores como também do trabalho de direção, figurinos e adereços), resvala sempre na exploração de um elemento redutor.
Zululuzu parece padecer da horizontalidade já presente em seu espirituoso título. Zulu é a forma contígua a luso, convertida rapidamente pela inversão silábica que revela seu contrário, luzu. Entretanto, o mecanismo semântico é somente de reversão horizontal (extensiva também à forma “zuloser”, que em certo momento um dos atores profere em cena). Os diversos elementos sensoriais, ora estranhos, ora feéricos que se produzem ao longo da encenação parecem não dissimular a vulnerabilidade dessa perspectiva em linha reta. Lembrar ao espectador que “os clichês e a aura da verdade que encobrem as narrativas oficiais são altamente questionáveis” pode soar divertido, mas superficial. “O humor é esta arte da superfície, contra a velha ironia, arte das profundidades ou das alturas” nos lembra Gilles Deleuze.
Há algo de profundamente irônico no esquecimento que Fernando Pessoa devotou a sua passagem pelo continente africano, justamente em um período da vida de um homem que é fundamental para sua idade adulta, isto é, dos oito aos dezessete anos. Educado à inglesa, por que o poeta haveria de olvidar a lição de William Wordsworth: “O menino é o pai do homem”? Diferentemente desse tipo de perscrutação estética, ética e política, o Teatro Praga investe em Zululuzu em uma viagem linear, assumida como “delirótica”. Que entretém, mas que soa somente com um recado, um aviso, um lembrete. Quando a matéria com a qual se optou por lidar poderia ter rendido a queda em uma profundidade de tipo abissal. Que transformasse o teatro em uma arena sobre a qual artistas e espectadores pudessem lutar, juntos, contra certos esquecimentos.
Welington Andrade é doutor em literatura brasileira pela USP, na área de dramaturgia. É professor do curso de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero desde 1997, crítico de teatro da revista Cult e autor de um dos capítulos da História do teatro brasileiro: do modernismo às tendências contemporâneas (Editora Perspectiva/Edições Sesc-SP, 2013).
*Leia mais artigos sobre o Mirada 2016 aqui