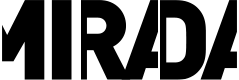PONTO DIGITAL MIRADA

[Crítica] Evocação de Dom Helder
Cia. do Tijolo homenageia importante figura para o imaginário social e cultural do país

por Welington Andrade
“Claro que dirão, Mariama, que é política, é subversão, é comunismo.
É Evangelho de Cristo, Mariama!”.
Dom Helder Câmara, Invocação à Mariama.
Em O avesso do claustro, a Cia. do Tijolo, sediada em São Paulo, dá prosseguimento ao misto de teatro, recital e cerimônia cívica que vem marcando a trajetória do grupo desde sua fundação em 2008. Depois de se debruçarem sobre Patativa do Assaré (Cante lá que eu canto cá e Concerto de Ispinho e Fulô), Federico Garcia Lorca (Cantata para um bastidor de utopias) e Paulo Freire (Ledores no breu), os integrantes da companhia escolheram tratar de Dom Helder Câmara (1909-1989), “emblemático personagem nas históricas lutas de resistência política durante o regime militar e na aproximação da igreja católica com as demandas dos movimentos sociais”, segundo eles próprios declaram no catálogo completo deste Mirada 2016. O resultado é um espetáculo em que o teatro, a música e a poesia se associam íntima e estruturalmente, convergindo para um tipo de ato cultural e político de longa filiação histórica entre nós, brasileiros, embora cinicamente mantido como invisível ou mesmo inexistente nos dias de hoje.
Três são os níveis discursivos da dramaturgia (assinada coletivamente), realçados pela direção exercida por Dinho Lima Flor em parceria com Rodrigo Mercadante e pontuados de maneira toda especial pela direção musical a cargo de William Guedes: o epos, o ethos e o pathos. No plano épico, a história pessoal do arcebispo de Olinda e Recife é contada de modo a dar sustentação a um panorama histórico do Brasil no século XX, com especial destaque para os anos de chumbo da ditadura militar que vigorou entre 1964 e 1985, período que parece sintetizar o peculiar amálgama entre atraso e progresso vivido em todo nosso Novecento e que os acontecimentos mais recentes da vida pública nacional mostram não ter sido superado de todo ainda, para a perplexidade geral. Mas epicamente também o itinerário histórico de Dom Helder se liga ao mito de Abrahão, povoador do mundo judaico-cristão, neto de um só Adão, mas avô dos incontáveis severinos que na peça estão representados pelo carrinho de pedreiro, pela escada de madeira e pelos tijolos manuseados por quem vive em lugares em que as bênçãos bíblicas são pura ironia, como a Vila das Belezas, a Consolação e a Estação da Luz.
A estrutura narrativa espraia-se por três centros organizadores: o de um pesquisador leigo que, nos dias atuais, vai a Olinda para conhecer mais de perto a trajetória de “bispo vermelho”; o de uma moradora da periferia de São Paulo, que, igualmente nos dias de hoje, padece do descaso com os pobres contra o qual Dom Helder sempre lutou; e o de uma cozinheira que conviveu com o religioso, na década de 1950, na Cruzada São Sebastião, conjunto de habitação popular encravado no Jardim de Alá, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, erguido em caráter de mutirão por iniciativa do então secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
Uma das grandes qualidades da dramaturgia é a de fazer o plano épico-narrativo desdobrar-se na esfera épica-dialética do teatro político, que vem dando inúmeros frutos nas últimas décadas e remonta ao trabalho de Bertolt Brecht, na Alemanha, e ao do Teatro de Arena de Augusto Boal e Oduvaldo Viana Filho, no Brasil. É por essa via que os três centros narrativos se entrecruzam uns com os outros (insistindo sempre no apagamento de marcas essencialmente dramáticas) e dialogam com a estrutura maior de enunciação do espetáculo. O avesso do claustro, já assumindo o sentido de contrariedade presente em seu título, é uma criação que se deixa atrair fortemente pela figura de um homem religioso para simultaneamente questionar o poder que a religiosidade exerce sobre os indivíduos e até mesmo a existência de Deus. Evocando ainda que de modo difuso a Missa leiga (1973), de Chico de Assis, a Cia. do Tijolo declara encenar uma “missa profana”, cujos efeitos sobre o artesanato do espírito do espectador são inversamente proporcionais à dessacralização que o espetáculo opera dos modos de espiritualidade cristã produzidos em escala industrial na vida moderna – deliciosamente revertidos nas canções cujos motes são “Se Deus existe, eu não sei” e “O que é o altar?”.
Assim, chega-se ao segundo plano dramatúrgico, o das implicações éticas pelas quais o trabalho deixa-se briosamente atravessar. Quão menos eclesiástico, no sentido institucional do termo, Dom Helder se apresenta em cena, mais ético ele parece ser. Eis aí uma bela lição a ser dada a todo e qualquer cristão que jamais faz de sua fé um ato de risco, praticando o bem somente “por interesse” e recusando o mal unicamente “por medo”, como uma das atrizes causticamente declara em cena. As entidades cristãs em que Dom Helder acreditava não exerciam as marcas de tirania de que a Igreja sempre se serviu para controlar seus fiéis (sobretudo os mais pobres) e adular os poderosos. O deus pelo qual ele lutou era uma entidade telúrica, imaginativa e carnavalesca (embalada até mesmo por um samba de Noel), extravagante não somente por presidir a tudo sem reivindicar poder sobre nada, como também por legislar veementemente pelo exercício de uma reversão paródica de alto teor político (base dos festejos de Momo), que faz quedar os súperos e ascender os humildes. Não é de se estranhar que um bispo que tenha feito a opção preferencial pelos pobres, motivado única e exclusivamente pelo senso ético desenvolvido nos primórdios do cristianismo, tenha sido combatido ao longo de toda sua vida pela grande imprensa, a opinião pública e os governos mais conservadores.
O ethos trata também do caráter assumido pelo discurso da peça cujo objetivo é o de conquistar a afinidade do público para a causa que ela apresenta, demonstrando a credibilidade de que goza esta criação por intermédio da crença que ela professa em um projeto comum. Assim, o teatro de matriz épica procura converter a experiência cênica em experiência cívica, irmanando atores e plateia em um ato de comunhão política. Se, nas décadas de 1960 e 1970 – em que se concentra grande parte da narrativa da peça –, a arte concebida no Brasil utilizou-se desse convite feito à “participação cívica” da plateia (categoria estudada com muita propriedade por Roland Barthes, no cenário internacional, e por Heloisa Buarque de Holanda, no âmbito brasileiro), nos tumultuados e vertiginosos dias atuais, a prontidão ética de O avesso do claustro constitui um atualíssimo e irônico exercício de anacronismo. Festa e devoção então se misturam não somente no ritual de lava-pés celebrado ao som do chorinho Pedacinhos do céu, de Waldir Azevedo, como também na profana ceia de sopa e vinho que o segue, servida pouco depois da metade do espetáculo.
O terceiro e último plano – o pathos – é certamente o mais complexo do espetáculo, sobre o qual, inclusive, é muito fácil emitir opiniões ajuizadas e bem-pensantes, dentro de uma lógica pós-moderna, naturalmente. A despeito de lidarem tão bem com a matéria dialética, os intérpretes se deixam contaminar do início ao fim da empreitada por uma penetrante e assídua emoção. Dinho Lima Flor assume com muita propriedade a máscara patética de um bispo folgazão, meio Pedro Malazarte, meio João Grilo, que converte a firmeza de caráter de Dom Helder em franca simpatia; Rodrigo Mercadante encarna por meio de sua voz e corpo inervados a dúvida metódica que persegue seu pesquisador e contamina sua atuação de uma energia irrefreável (a cena em que ele transita dos trechos do manifesto integralista a fragmentos dos discursos de nossos congressistas em favor do impeachment de Dilma Roussef é de uma contundência acachapante; Lilian de Lima confere à andarilha paulistana uma aura de dignidade resultante da expressão de sua bela voz e de seu firme trabalho corporal, dando plasticidade a um tipo humano doído, e fascinante; Karen Menatti também explora a dignidade de sua cozinheira, mas, contrariamente à força que emana da atuação de Lilian, ela o faz pela via de uma tênue vulnerabilidade de tipo lírico. (Registre-se também sua bela voz. E seu comovente depoimento a respeito do ferimento sofrido em recente manifestação contra o governo Temer em São Paulo). Integra o elenco ainda Flávio Barollo, atuando nas composições corais e na projeção dos vídeos realizados por ele próprio.
O estilo de atuação da Cia. do Tijolo alia o tom de declaração pessoal de cada um dos intérpretes ao modo desabrido como cada um deles se lança a um caldo de emoções no qual a plateia dificilmente deixa de mergulhar. Da aura das singularidades e das idiossincrasias passa-se então a uma atmosfera de pathos social habilmente construída. “Popularesca”, dirão os estetas; “populista”, chamarão os cínicos; “popular” intuirão os conhecedores da alma latina. A verdade é que as perguntas que cada atuador se faz – “Quem me ouviria” e “O que é que vai por dentro?” – são dirigidas a cada um de nós, por meio de uma partilha de subjetividades que se tocam e se reconhecem como mútuas.
A música em O avesso do claustro é uma linguagem absolutamente integrada à cena, ora realçando certos elementos narrativos especiais, ora dizendo aquilo que a palavra dos atores simplesmente não consegue expressar, por estar tangido por um tipo de lirismo incompreensível à fala humana. Maurício Damasceno, William Guedes, Clara Kok Martins, Eva Figueiredo e Leandro Goulart se encarregam de criar uma ambiência melódica e rítmica que transita – como seria de se esperar – entre o sagrado e o profano. Sambas, maracatus e bossas interagem com kyries eleisons, hosanas nas alturas e laudamus te benedictus precipitando-se em uma massa sonora que concretiza, tematicamente, a forma do espetáculo.
Questionar a existência de um deus institucionalizado e a íntima relação dessa existência com os poderes mundanos constituídos talvez seja o objetivo maior de um espetáculo que denuncia a escuridão dos claustros (onde “tudo está sempre tão escuro”) e propõe sua reversão por meio da luminosidade da arte e da ética humanística que sempre lhe serviu de esteio. Com a luz lançada pelo teatro, pela música e pela poesia é possível também nos embriagarmos, parece nos dizer a Cia. do Tijolo, fazendo coro com Dom Helder Câmara, ao nos advertir de que é possível deixarmos de nos inebriar somente com nossa própria mediocridade.
*Welington Andrade é doutor em literatura brasileira pela USP, na área de dramaturgia. É professor do curso de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero desde 1997, crítico de teatro da revista Cult e autor de um dos capítulos da História do teatro brasileiro: do modernismo às tendências contemporâneas (Editora Perspectiva/Edições Sesc-SP, 2013).
**Leia mais artigos sobre o Mirada 2016 aqui